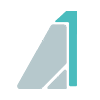A arte como meio de preencher o vazio
Muito se fala sobre a relação destrutiva da arte na vida de famosos artistas, como grandes obras nascem dos momentos mais vulneráveis de seus idealizadores. Por mais que seja uma noção carregada de perigos, que vão desde uma inclinação à naturalização dos vícios, por ser o único caminho dito para se criar algo por parte do autor, até uma exploração de sangue e suor alheio “em nome da arte”, existe uma força oculta em muitas obras nascidas da dor, justamente por funcionarem como um reflexo de uma ferida, seja para curá-la, seja para exibi-la aos seus iguais. É uma relação quase de confiança do autor com o público que, muitas vezes, faz com que essa audiência esteja à procura da enfermidade que motivou tal história.

Hamnet – A Vida Antes de Hamlet se inspira na vida de Shakespeare, ficcionalizando sua relação com a esposa para conceber o que estaria por trás de uma de suas obras mais elogiadas. Com isso, vemos a vida do casal William (Paul Mescal) e Agnes (Jessie Buckley), em uma relação de amor e poesia, que entre o humano e o divino é impactada pela chegada dos filhos e a iminente perda de um deles.
Em uma obra que, acima de tudo, fala sobre sentimentos, Chloé Zhao mais uma vez apresenta um filme cujo foco maior está em seus personagens, sobre como suas relações definem a história a ser contada. Sensação que pode ser vista no vencedor do Oscar Nomadland (2021) e até na sua aventura na Marvel, Eternos (2021). Em Hamnet, no entanto, a diretora tem mais sucesso em sua abordagem sempre intimista, por se tratar de um filme que se casa perfeitamente com o estilo melodramático. Uma união perfeita tanto pelo caráter teatral de quem a vida está sendo retratada em tela, como pela ideia de servir como representação de um sentimento, especificamente o luto.
Tanto o livro como sua adaptação não falam exatamente sobre a vida do autor de Hamlet, A Tempestade e outras obras, mas sobre um capítulo pouco abordado de sua história, a morte do filho Hamnet (Jacobi Jupe). Logo, o que está sendo retratado é como a retirada de um filho consegue destruir a vida de seus pais. Contudo, quando se fala sobre a literatura e outras formas variadas de arte, é como se tal destruição fosse endeusada, com qualquer sofrimento sendo reconhecido como o motor que move a história a ser lindamente contada. Algo que em doses menores pode ser visto na música, onde um álbum de término de relacionamento é louvado pelo mero compartilhamento de um sentimento de vulnerabilidade.
O luto, por outro lado, é uma dor martirizada, quase proibida de ser sentida, até por um medo das pessoas ao redor de reviverem suas chagas, vivendo o desejo de ignorar como essa sensação se encontra sempre à espreita. E é assim que vive Agnes, vivida por uma excelente Jessie Buckley, que incorpora esse receio a ponto de isso ditar a criação dos seus filhos, vivendo em dor por receio de quando tal sofrimento vier visitá-la. Quando a tragédia se apresenta, é permitida uma daquelas atuações viscerais, o que Buckley nos mostra, compartilhando com o espectador esse sentimento de tristeza constante que passa a ditar seus passos, por mais que tal agouro sempre fosse visto em seu olhar.
Hamnet é um filme para se chorar, mas não um daqueles que excedem a mão. Sua melancolia é justificada, assim como alimentada por toda a felicidade que a precede. Uma alegria presente na relação do casal, a forma como esse amor e suas raízes são acariciados por um abraço ao que é místico, tudo combinado com o olhar naturalista que Zhao sempre adota em suas lentes. Esse conto de dor pessoal é tão forte, que em sua parte final parece ser invadido pela vida de William Shakespeare, sendo um choque ver o seu nome dito pela 1ª vez em tela, nos lembrando da necessidade de se conectar com o chamariz que justifica a produção, em termos comerciais, no caso.
A transformação de Hamnet em Hamlet, com o palco servindo de cenário para essa transição do humano para o divino, com a arte sendo responsável por essa imortalização, é uma sequência forte de eclosão de sentimentos. Um misto de adoração e pavor, como o ato de reviver o luto se torna uma forma de aprender a conviver com ele. Um estrondo emocional que funciona melhor para os não familiarizados com On the Nature of Daylight, faixa dramática do compositor Max Richter que Hollywood abraçou como o único tema emotivo existente, presente em obras como The Last of Us, The Handmaid’s Tale, Ilha do Medo (2010) e A Chegada (2016) Ao menos aqui o músico é chamado para cuidar do resto da trilha, ficando a sensação de que ele conseguiria fazer algo tão bonito quanto para a cena, dando continuidade a uma música que consegue ser calma e apavorante, como no corte rápido, no qual vemos o jovem sumir na escuridão.
É com esse sentimento de desaparecer que Hamnet lida, mostrando como a arte pode ser o caminho adotado para tentar manter algo ou alguém vivo. Uma forma daqueles que ficam de perpetuar um amor, de modo a fazer com que todos compartilhem um pouco deste sentimento. Junto a isso, alimenta uma noção de que, para ser tocado, é preciso ter uma camada sofrida de envolvimento de quem o faz. De qualquer modo, o que existe é um olhar profundo para como o amor persiste, causando dor e acalento, dicotomia que alimenta histórias, vidas e mortes.


Direção: Chloé Zhao
Roteiro: Chloé Zhao e Maggie O'Farrell
Elenco: Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson e Joe Alwyn
Trilha Sonora: Max Richter
Fotografia: Łukasz Żal
Montagem: Chloé Zhao e Affonso Gonçalves
Produzido por: Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg e Sam Mendes
Título original: Hamnet